CRIATIVIDADE
Descubra a criatividade que há em você! Aprenda a desenvolver sua criatividade e crie ideias criativas para resolver problemas. Acesse agora para começar a desenvolver sua criatividade!
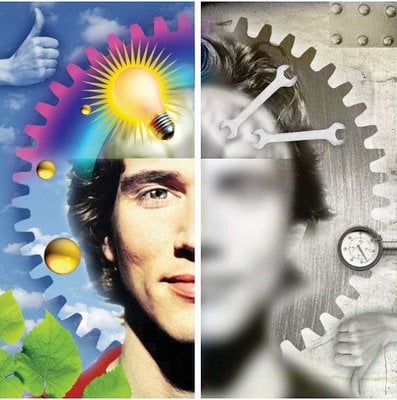
Criatividade
INTRODUÇÃO
Ao se falar em educação está sempre implícita uma determinada teoria do conhecimento, isto é, uma teoria que fundamenta e explica a maneira e o processo pelos quais o homem vem a conhecer o mundo. O como o homem conhece, o como ele encontra um sentido para sua vida no mundo, passa a ser a pedra angular de qualquer processo educativo. Se educar é levar a conhecer, é necessário que se defina então como se dá o ato de conhecimento, para que a educação se fundamente nesse processo.
A capacidade humana de atribuir significações — em outros termos, a consciência do homem — decorre de sua dimensão simbólica. Por intermédio dos símbolos o homem transcende a simples esfera física e biológica, tomando o mundo e a si próprio como objetos de compreensão. Pela palavra, o universo adquire um sentido, e o homem pode vir a conhecê-lo, emprestando-lhe significações. Portanto, na raiz de todo conhecimento subjazem a palavra e os demais processos simbólicos empregados pelo homem.
“A linguagem é o nosso mais profundo e, possivelmente, menos visível meio ambiente”, afirmam Postman e Weingartnen. é preciso que se compreenda o processo lingüístico para que se entenda o que significa conhecer. O sentido da linguagem no mundo humano deve ser elucidado, a fim de que se possa perceber os mecanismos de significação de que se vale o homem. Não há conhecimento sem símbolos.
Esta é uma afirmação básica, que norteará nossas considerações ao longo das páginas seguintes. O esforço humano para compreender é o esforço para encontrar símbolos que representem e signifiquem o objeto conhecido. A consciência e a razão humanas, como se demonstrará, nascem com a linguagem e só se dão através dela. Toda compreensão lógica e racional somente é possível através da linguagem e de seus derivativos (como a lógica formal e a “linguagem” matemática).
Porém, antes que o pensamento possa tomar qualquer experiência como seu objeto, ocorre já um certo “colocar-se” em relação à situação, que envolve aspectos para além da consciência simbólica. Este experienciar compreende então um envolvimento mais abrangente do homem com o mundo, em que se incluem percepções e estados afetivos, anteriores às simbolizações do pensamento.
Parafraseando Merleau-Ponty, podemos dizer que o mundo não é só o que pensamos, mas o que vivemos. Porque a dimensão vivida, anterior à simbolização, não se esgota jamais no pensamento. Há sempre uma região que permanece fora do alcance do pensamento e da linguagem. E esta região é o sentimento humano. Por sentimento, entenda-se, assim, a apreensão da situação em que nos encontramos, que precede qualquer significação que os símbolos dão. O sentir é anterior ao pensar, e compreende aspectos perceptivos (internos e externos) e aspectos emocionais. Por isso pode-se afirmar que, antes de ser razão, o homem é emoção.
O conhecimento do mundo advém, dessa forma, de um processo onde o sentir e o simbolizar se articulam e se completam. Contudo, não há linguagem que explicite e aclare totalmente os sentimentos humanos. Não se pode, nunca, descrever com palavras como é a dor de dente ou como é a ternura que estamos sentindo. O conhecimento dos sentimentos e a sua expressão só podem se dar pela utilização de símbolos outros que não os lingüísticos; só podem se dar através de uma consciência distinta da que se põe no pensamento racional.
Uma ponte que nos leva a conhecer e a expressar os sentimentos é, então, a arte, e a forma de nossa consciência apreendê-los é através da experiência estética. Na arte busca-se concretizar os sentimentos numa forma, que a consciência capta de maneira mais global e abrangente do que no pensamento rotineiro. Na arte são-nos apresentados aspectos e maneiras de nos sentirmos no mundo, que a linguagem não pode conceituar.
Este é, portanto, o núcleo de nossas considerações: a arte como forma de conhecimento humano. Isto é: através da arte o homem encontra sentidos que não podem se dar de outra maneira senão por ela própria. Em torno desta asserção central pretendemos, pois, desenvolver nosso problema, qual seja: a dimensão estética da educação. Dito de outra maneira, é preciso que se verifique como arte se constitui num elemento educativo; como ela provê elementos para que o homem desenvolva sua atividade significadora, ampliando seu conhecimento a regiões que o simbolismo conceituai não alcança.
Contudo, não iremos aqui focalizar nossa atenção sobre o trabalho (a práxis) do artista. O processo específico de criação na arte necessitaria de um estudo particular, centrado na figura do criador e em suas relações com a sociedade. Tampouco nos preocuparemos com as obras de arte enquanto objetos para uma reflexão de ordem estética; isto é, não é nosso intuito discutir aquilo que faz com que uma obra seja boa ou má, do ponto de vista estético.
Nossa posição será muito mais a do espectador, do público para quem se dirige o trabalho artístico. Na pessoa do fruidor da arte é que buscaremos compreender seus efeitos educativos; no conhecimento que ela possibilita ao espectador é que iremos procurar sua dimensão educacional — com exceção da arte infantil, na medida em que, para a criança, a arte é uma atividade, um fazer.
Isto envolve a conceituação da educação de uma perspectiva mais abrangente que a simples transmissão de conhecimentos. Envolve a consideração da educação como um processo formativo do humano, como um processo pelo qual se auxilia o homem a desenvolver sentidos e significados que orientem a sua ação no mundo. Neste sentido, o termo educação transcende os limites dos muros da escola para se inserir no próprio contexto cultural onde se está.
A questão da educação gira sempre em torno da criação e da criatividade: ao aprender, estamos criando um esquema de significados que permite interpretar nossa situação e desenvolver nossa ação numa certa direção. E, como assinala, Alain Beaudor: “… o ambiente cultural de um país deve influir largamente sobre o desenvolvimento — ou sufocamento — da criatividade dos indivíduos.”
A educação, dessa maneira, compreende também o ambiente cultural no qual o indivíduo vive, na medida em que lhe possibilite ou lhe vete a constituição de um sentido (o mais amplo possível) para sua existência. A circulação de idéias, significados e sentidos, no interior de uma cultura, e o acesso a essa circulação compreendem pois o contexto formativo (educacional) mais amplo no qual estamos inseridos.
Os métodos pêlos quais se permite ou se veta a participação dos indivíduos nos produtos culturais são, em última análise, métodos educativos. Na afirmação de Herbert Read: “A diferença entre o ideal de cidadania em uma democracia livre e o ideal de serviço num estado totalitário é tão absoluta que desde a infância até a idade adulta implica uma completa divergência em objetivos e métodos educativos.”
A arte é sempre produto de uma cultura e de um determinado período histórico. Nela se expressam os sentimentos de um povo com relação às questões humanas, como são interpretadas e vividas em seu ambiente e em sua época. Através da arte temos acesso a essa dimensão da vida cultural não explicitamente formulada nas demais construções “racionais” (ciência, filosofia).
Por outro lado, quando se pensa na dimensão estética da educação, esta expressão envolve um sentido para além dos domínios da própria arte. Porque o termo estética supõe uma certa harmonia, um certo equilíbrio de elementos. E, em nossa civilização, vem sendo sobremaneira difícil o encontro de um equilíbrio entre os sentidos que damos à vida e à nossa ação concreta no cotidiano.
Talvez se possa considerar que nas culturas ditas “primitivas” a vida seja mais esteticamente vivida, na medida em que cada ação do indivíduo faz parte de um universo de valores e sentidos, do qual ele tem uma visão abrangente. Enquanto que nós, civilizados, estamos mergulhados num oceano de significações, entre as quais devemos eleger aquelas que pautem o nosso agir diário; e nem sempre é possível que este agir diário se coadune com nosso esquema de valores e significados.
Assim, a própria Educação possui uma dimensão estética: levar o educando a criar os sentidos e valores que fundamentem sua ação no seu ambiente cultural, de modo que haja coerência, harmonia, entre o sentir, o pensar e o fazer. Caso contrário, estamos frente à tendência “esquizóide” de nossos tempos: a dicotomia entre o falar e o fazer, entre o pensar e o agir, entre o sentir e o atuar.
Em resumo, nossa proposta aqui é buscar a importância da arte no processo educativo, entendendo-o de maneira mais ampla que o simples ensino escolar. Devemos tentar estabelecer como a arte participa na formação do homem: qual a sua significação no processo de conhecimento humano.
Portanto, foge a nossos propósitos o estabelecimento de uma pedagogia artística ou a demarcação de métodos para a utilização da arte como veículo educacional. Estas são questões mais pertinentes aos artistas ou aos especialistas em arte-educação do que ao psicólogo ou ao filósofo educacional. Pretendemos somente articular o processo do conhecimento (e a aprendizagem) com a arte, inserindo-se num contexto cultural.
Apenas a título de apêndice, traçamos algumas considerações de como a arte foi e vem sendo encarada pelo ensino oficial brasileiro. Restringimos tais reflexões ao ensino oficialporque a consideração da arte na cultura brasileira é também assunto por demais amplo, e mais afeito ao campo da história da arte. Enquanto que o acesso aos objetivos e ao processo concreto de nosso ensino é mais facilmente evidenciável, mesmo por fazer parte de nosso trabalho cotidiano.
Ainda com relação à expressão artística deve-se traçar uma diferenciação nem sempre aclarada: aquela entre os conceitos decomunicação e expressão. A comunicação, como se verá, diz respeito à transmissão de significados explícitos, através da linguagem.Enquanto a expressão subentende a indicação, o desvelamento de sentimentos, não passíveis de significação conceituai.
Esta é uma distinção importante, especialmente no âmbito da psicologia. Laing e Cooper, os iniciadores da chamada antipsiquiatria, têm freqüentemente traçado uma crítica à postura “cientificista” da psicologia e psiquiatria “tradicionais”, que tem a ver com esta diferenciação. Lê-se em muitos textos sobre psicopatologia que o “doente mental” (especialmente o esquizofrênico) apresenta uma linguagem incongruente e incompreensível.
Contudo, dizem os autores citados, ela apenas é incongruente do ponto de vista da linguagem conceituai com que o “espírito cientificista” desses senhores pretende compreender o paciente. Não se pode pensar que as falas do esquizofrênico pretendam comunicar significados conceituais. Antes, ele está totalmente imerso na dimensão dos seus sentimentos, os quais procura expressar através de Símbolos linguísticos mais próximos da poesia- O esquizofrênico não diz, masexprime-se por meio de Símbolos que devem ser compreendidos como se “compreende” a arte: sentindo-os, muito mais que os interpretando apenas racionalmente. Por isso Cooper chega a afirmar que “… os esquizofrênicos são os poetas estrangulados de nossa época”.
Procuramos então, no decorrer de nossas argumentações e considerações, inserir no presente texto uma série de versos e expressões poéticas. Queremos crer que elas possam permitir uma compreensão mais ampla de nossas reflexões, por expressarem elementos . para além da simples comunicação conceituai. O que confere também ao trabalho uma certa “abertura”, isto é, permite ao leitor a descoberta e a criação de sentidos outros que não estejam conceitualmente colocados. Porque, no seio da reflexão sobre arte e criatividade, restringir a compreensão apenas ao âmbito lógico ou científico talvez seja empobrecer os sentidos encontrados.
Segundo George F. Kneller, “as abordagens científicas e intuitivas têm de completar-se mutuamente, não apenas agora, quando a ciência da criatividade está ainda na infância, mas permanentemente. Proscrever uma delas será dogmatismo alheio ao sadio espírito de ambas (…). Além disso, a psicologia encarregou-se de provar que ela é instrumento limitado para a exploração do processo criador. Por umas tantas razões os psicólogos conseguiram só poucas conclusões definitivas”.
Por fim, desejamos afirmar que uma preocupação central ao elaborar este trabalho se referiu à linguagem nele empregada. Procuramos reduzir a um mínimo os termos técnicos e demais expressões tão caras a um sem-número de cientistas e pensadores. Isso por acreditar que o conhecimento produzido no interior de uma Universidade ou Instituto de Pesquisas pertence à comunidade, e não é de uso exclusivo de uma série de “iniciados”.
Pode-se elaborar uma pesquisa e um texto conclusivos numa linguagem “objetivamente” técnica e hermética. Todavia, “…o conhecimento assim obtido. . . é entregue não aos homens sobre as quais se fala, mas a outros homens. Como o cientista dissesse ao seu objeto: “Eu te estudo. Mas o meu conhecimento a teu respeito, eu o ocultarei de ti, através do meu estilo “. Especialmente no interior da filosofia e das ciências humanas a linguagem empregada é de suma importância.”
Meu pensamento sobre a natureza não altera a natureza. Mas, o meu pensamento sobre a sociedade altera a sociedade. Por isto a linguagem, ela mesma, é uma ferramenta para interferência direta num mundo social. Uma linguagem científica que não se articula com a linguagem falada no cotidiano, portanto, corre o risco de ser semelhante a uma técnica de laboratório que não tem meios de interagir com o objeto que está sendo investigado. “
Assim, queremos crer que esta preocupação com a linguagem possa permitir o acesso às nossas reflexões ao maior número possível de pessoas, que se interessem pela arte e pela educação. Dois fenômenos profundamente humanos. E interpenetrantes”.
DESENVOLVIMENTO
É impossível, pretender-se uma visão completa e abrangente da posição que a arte ocupou e tem ocupado no ensino brasileiro. Nossa proposta, aqui, visa exclusivamente a apresentação de determinadas linhas gerais, históricas e filosóficas, que vêm norteando a educação oficial brasileira, especialmente em termos artísticos. Um sem-número de detalhes e particularidades deverão, forçosamente, ser relevados, em virtude de sua especificidade e de sua não-pertinência no presente contexto.
O elemento-chave a guiar nossas considerações será a visão da cultura brasileira como um todo, o que, em si, é altamente problemático. Problemático na medida em que nossa cultura carece ainda de contornos bem definidos e definidores, e também na proporção em que apresenta, em seu interior, diferenças regionais marcantes, especialmente em termos econômicos. Porém, um enfoque global não é tarefa impossível, e deve ser procurado, a bem de uma compreensão dos valores e sentidos gerais que vêm regendo nossa vida enquanto nação.
Primeiramente deve-se considerar as origens coloniais brasileiras, a fim de que se entenda o processo formativo da cultura nacional. Neste sentido deve-se notar que, desde o descobrimento, Portugal via no Brasil uma espécie de “despensa”, onde seu único interesse era a retirada de riquezas e matérias-primas. Nunca houve, por parte dos portugueses, o intuito de desenvolver ou deixar que aqui se desenvolvesse uma cultura com características próprias. A incipiente vida cultural do Brasil-colônia nada mais era que um apêndice, uma extensão mais pobre da cultura européia.
A criação de uma cultura genuinamente brasileira, com valores e sentidos próprios, era perigosa aos interesses portugueses, pois acabaria levando a colônia a tornar-se independente. Era então necessário que se proibisse aqui a produção e a circulação de idéias originais, proibindo-se a publicação de jornais e livros.
Bem como era necessário — para manter a dependência — vetar a manufatura e a produção de bens, que deveriam ser adquiridos da metrópole. Conseqüentemente, nossa cultura originou-se através de um transplante da cultura portuguesa: pensavam-se e viviam-se os valores e sentidos europeus, que pouco tinham a ver com as condições reais da terra.
Nossa intelectualidade e nossas elites dirigentes, assim, formavam-se exclusivamente a partir de sentidos oriundos de uma cultura bem distante e distinta daquela que os escravos e as classes subalternas iam aqui tentando forjar. Nestes termos, nossa realidade nunca se constituiu em matéria de reflexão mais acurada, já que os problemas colocados às elites derivavam sempre de sistemas de pensamento desenvolvidos em torno da vida européia.
Cavava-se um fosso entre os valores da classe dirigente e aqueles brotados de condições especificamente locais. Nas palavras de Roberto Gomes: “O desapego da realidade em volta, a falta de identidade com o povo e a preocupação incestuosa com uma distinta e idealizada Europa, fizeram com que as elites políticas, através de seus representantes intelectuais e cuidando de seus interesses, ficassem inteiramente alheias a uma realidade brasileira. Pois a elite brasileira sempre teve horror ao que a circundava”.
“O resultado concreto foi à importação, pelas elites dominantes, de modelos políticos, econômicos e educacionais, inteiramente estranhos às nossas condições e àquilo que somos e viemos a ser. Não tão estranhos, porém, aos interesses dessas elites.” Portanto, a importação da cultura europeia sempre atendeu aos interesses do colonizador e da classe dominante, na medida em que impedia as florescimento de valores e sentidos brotados da vida aqui vivida. Note-se, também, que o fascínio pela cultura europeia continuou a exercer grande influência sobre nossas elites pensantes e dirigentes, mesmo após nossos dias, o que tem impedido a constituição de um pensamento tipicamente nacional, ou de uma “razão tupiniquim’, como quer Roberto Gomes.
O colonizador português queria ver aqui a continuação de sua Europa — lição transmitida a seus descendentes que, mesmo sem conhecê-la, continuaram a sonhar com ela. Por isso Chico Buarque e Ruy Guerra colocam, na boca do colonizador, os versos: ‘Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal / Ainda vai tomar-se um imenso Portugal.”
A partir deste contexto de transplante cultural é que se deve entender as raízes históricas de nosso sistema educacional. Pois, “não constando do projeto dos colonizadores a intenção de desenvolver uma cultura nacional, também não estava no pensamento dos educadores a implantação de um sistema educacional que respondesse às necessidades nacionais”. Através do ensino, os valores e sentidos originários da Europa eram transmitidos àqueles que aqui nasciam, contribuindo para que a realidade em volta fosse desprezada.
“A educação na metrópole é a transmissão da cultura nacional. Mas na colônia não há cultura nacional. O que há é a importação ou transplantação da cultura metropolitana. A educação brasileira, na situação colonial, era a transmissão às jovens gerações brasileiras da cultura da metrópole.” Assim, vemos já em seus primórdios a educação brasileira caracterizar-se por uma imposição de sentidos distantes da vida concreta dos educandos. Caracterizar-se por um alheamento da realidade na qual estava inserida.
Fugindo das conquistas de Napoleão Bonaparte, chega aqui, en 1808, o príncipe-regente de Portugal, D. João VI. Com a transferência da corte para o Brasil, fez-se necessário que a cultura nacional se ampliasse e se modernizasse, sendo inclusive criada a Imprensa Régia. A fim de que o ensino das artes se iniciasse oficialmente o príncipe mandou buscar uma série de artistas franceses, que aqui chegaram em 1816, constituindo a célebre Missão Francesa. Através dela fundou-se a Academia de Belas-Artes, considerada o germe inicial de nossa educação artística. Porém, o ensino trazido pêlos franceses revelou-se mais uma imposição de valores.
Pois no Brasil o estilo barroco-rococó havia sido lentamente assimilado e ainda frutificava, já exprimindo valores nacionais; e o que foi trazido pela Missão era a tendência neoclássica, que na época despontava na Europa. “Essa transição foi abrupta, e num país que até então importava os modelos da Europa com enorme atraso, a ‘modernidade’, representada pelo neoclássico, provocou suspeição e arredamento popular em relação à Arte.”
As elites brasileiras, aderindo assim ao moderno, automaticamente passaram a rejeitar o barroco, que havia se popularizado. Afastando-se a arte do contato popular, reservando-a para the happy few e os talentosos, concorria-se, assim, para alimentar um dos preconceitos contra a arte até hoje acentuado em nossa sociedade, a idéia da arte como uma atividade supérflua, um babado, um acessório da cultura.
Outro preconceito contra a arte a ser destacado, e que também se originou em nosso período colonial, diz respeito às atividades manuais, exercidas então exclusivamente pêlos escravos. O que fez com que as artes literárias sempre fossem vistas com melhores olhos do que as artes plásticas, musicais e aquelas aplicadas à indústria”.
Até a Proclamação da República, em 1889, o ensino da arte nas escolas oficiais concentrou-se naquelas destinadas à produção de bens, incluindo aí o desenho técnico e geométrico. Note-se que tais escolas destinavam-se às classes trabalhadoras, ou à pequena burguesia, enquanto as chamadas “belas-artes” eram ensinadas em escolas, academias e conservatórios especiais, para as classes mais abastadas. Está situação adentrou mesmo o século XX, sem alterações substanciais. Nossa visão filosófica de então era essencialmente derivada do positivismo de Auguste Comte, que se refletia também nos métodos de ensino e em. seu conteúdo.
Para esta concepção a arte possuía importância na medida em que se lhe tornava uma contribuição ao estudo da ciência (a única forma de a razão chegar à “verdade”). Era vista somente como uma forma de preparação do intelecto para atividades “mais elevadas”. “A Arte era encarada como um poderoso veículo para o desenvolvimento do raciocínio desde que, ensinada através do método positivo, subordinasse a imaginação à observação, identificando as leis que regem a forma.” Porém, mesmo o positivismo comteano foi mal assimilado em nosso contexto, que relegou a arte a um estádio ainda inferior ao ocupado na visão de Comte, centralizando os currículos desde cedo no ensino direto das ciências. Assim, neste período, “… o excessivo intelectualismo e antiindividualismo foram o fator determinante dos meios de ensino artístico, e denominador comum entre as práticas artísticas influenciadas pelo positivismo e neoclassicismo .”
Paralelamente ao positivismo começava a crescer também a influência do liberalismo, que possuía uma visão um pouco diversa com relação ao ensino da arte. Se para o positivista a arte era um caminho até a ciência, para o liberal ela apresentava um certo valor em si, mas ainda um valor pragmático. Especialmente o desenho era visto como a constituição de uma “linguagem técnica”, que auxiliaria na invenção e na produção industrial. O que centrava também a importância e o ensino artístico no desenho e nas artes industriais.
Isto tomou possível a articulação entre o positivismo e o liberalismo em várias reformas e propostas educacionais, com o predomínio ora de uma, ora de outra tendência. “O desenho com a conotação de preparação para a linguagem científica era a interpretação veiculada pêlos positivistas; o desenho como linguagem técnica, a concepção dos liberais. Entretanto, a partir de 1901, passaram a exigir uma gramática comum, o desenho geométrico, que era proposto nas escolas primárias e secundárias como um meio, não um fim em si mesmo”.
“Para os positivistas era um meio de racionalização da emoção e, para os liberais, um meio de libertar a inventividade dos entraves da ignorância das normas básicas de construção. No entender dos liberais ‘barbosianos’ [seguidores de Rui Barbosa], a liberdade exigia o conhecimento objetivo das coisas .” Deve-se ressaltar também a influência do romantismo (que ainda se fazia presente no início deste século) nas teses dos liberais. Sua influência principal se referia aos efeitos da arte na formação moral dos indivíduos: através da arte o bom e o belo se vinculavam.
“O efeito moral da arte é o axioma mais freqüentemente repetido na obra pedagógica de Rui.” Assim, sobre estas três tendências erigiu-se o edifício inúmeras vezes restaurado e reformado do ensino brasileiro da Primeira República. Para usar uma expressão de Roberto Gomes, podemos afirmar que desde o princípio nossa visão educacional se embasou numa “salada filosofante”, que procurava conciliar e sintetizar correntes de pensamento diversas e distintas — do que resultou uma concepção de educação, especialmente em termos artísticos, de contornos bastante imprecisos.
A Semana de Arte Moderna, em 1922, veio trazer novos ares para as artes brasileiras. Através de sua proposta renovadora, significou a descoberta de novas maneiras de se entender a expressão artística. Um aspecto relevante desta renovação diz respeito à arte infantil, que passou a ser olhada como apresentando um valor estético ligado à espontaneidade da criança. Ou seja: a arte, para a criança, deixou de ser vista por muitos como uma preparação do intelecto ou uma preparação moral, para ser encarada também como a liberação de fatores emocionais e a expressão de experiências. De certa forma, anteriormente à Semana já havia prenúncios desta visão, quando alguns educadores procuravam relacionar a então jovem psicologia aos desenhos infantis.
Porém, é com o Modernismo que esta tendência se concretiza e se acentua. Contudo, apesar do Modernismo, nosso ensino oficial continuou ainda a reservar à arte um lugar inferior, e sua tendência predominante continuou sendo a ligação da arte aos valores pragmáticos e técnicos. E isto, note-se, pela conceituação do desenho geométrico e técnico como formas de arte. Aliás, quando estamos nos referindo aqui à arte no ensino brasileiro desta época, entenda-se o desenho no ensino brasileiro, já que além dele apenas a música era eventualmente incluída nos currículos; e mesmo assim, quase como uma atividade de lazer, onde o aluno ouvia o mestre tocar ou cantava, com o seu acompanhamento, os hinos do país e algumas outras canções.
Tais são, portanto, as bases que, historicamente, fundaram e definiram a posição da arte em nosso sistema de ensino. A partir de então, apesar das reformas e renovações operadas na orientação oficial da educação, estes fundamentos continuaram a se fazer presentes praticamente até nossos dias. Nas palavras de Ana Mãe Barbosa : “Um dos pressupostos difundidos na época, a idéia da identificação do ensino da Arte com o ensino do Desenho Geométrico, compatível com as concepções liberais e positivistas dominantes naquele período ainda encontra eco cem anos depois em nossas salas de aula e na maioria dos compêndios de Educação Artística, editados mesmo depois da Reforma Educacional de 1971.”
Sendo a tendência oficial de nosso ensino eminentemente pragmática desde os seus primórdios, a arte nunca teve nele um papel que não fosse o de mero apêndice ou de preparação para atividades “superiores”.
No período entre a Semana de 22 e a Reforma de 1971, a arte continuou a ocupar este lugar subalterno, no então chamado ensino primário e secundário. É significativo, neste período, a existência da arte nos currículos seguida de adjetivações, tais como “artes industriais” ou “artes domésticas”. Na primeira disciplina os alunos (do sexo masculino) aprendiam a confeccionar objetos “úteis” nas oficinas, como: estantes, porta-copos, bandejas, etc. Na segunda, as alunas eram adestradas nas “artes” culinárias, do bordado, da costura, etc.
As cadeiras de formação musical, também chamadas de “canto orfeônico”, continuavam a se restringir ao ensino do hinário nacional. Todavia, há que se ressaltar a iniciativa de inúmeros educadores e artistas que procuraram, paralelamente ao ensino oficial, fundar e desenvolver as “Escolinhas de Arte”, nascendo a pioneira em 1948, no Rio de Janeiro, por iniciativa de Augusto Rodrigues. E ainda a célebre experiência (duramente reprimida) dos Ginásios Vocacionais que, coordenados pela Prof.aMaria Nilde Mascellani, deram à arte um lugar ao lado das outras “disciplinas”.
Nossa formação cultural adveio, pois, de um transplante da cultura europeia, que entre as elites (intelectuais, inclusive) continuou a ser o ideal de civilização. A realidade do povo e da terra nunca foi encarada através de uma ótica própria, por parte de nossos intelectuais e planejadores, afeitos a formas alienígenas de pensar.
Ao povo — sempre visto como ignorante e atrasado — reservava-se o ensino voltado à produção de mão-de-obra; o ensino dirigido apenas à intelecção e estritamente pragmático, calcado em valores e métodos importados (que aqui acabaram sendo mal assimilados). A arte, considerada um luxo e interpretada segundo os cânones europeus, destinava-se à formação e ao lazer das classes mais abastadas. Tais classes também nunca viram com bons olhos as manifestações artísticas populares, consideradas “primitivas” e “incultas”.
O povo, que não tinha acesso à arte da elite, também era desencorajado e até reprimido em suas manifestações estéticas. Em tal contexto é compreensível que arte e educação nunca fossem vistas como fenômenos interpenetrantes e complementares. Com uma invasão cultural entranhada desde as suas origens, a cultura brasileira veio se ressentindo de sentidos e valores genuinamente nacionais, procurando sustentar, através das elites, valores importados de outras culturas que, conseqüentemente, não podiam exprimir a vida concretamente vivida. Nossos valores e expressões sempre brotaram à margem dos canais oficiais, e a despeito dos sentidos, veiculados pelos dominantes.
Na década de 60, especialmente após o golpe militar de 1964, adotou-se um modelo de “desenvolvimento” que implicou uma abertura maior de nossas portas ao capital e aos sentidos estrangeiros. Na visão do grupo que assumiu o poder, tratava-se de “modernizar” o país e, para tanto, deviam-se adotar integralmente os métodos e procedimentos de outras culturas, especialmente a norte-americana. Se nossas elites intelectuais ainda se apoiavam em sistemas europeus, nossos dirigentes passaram a se valer dos valores técnicos e pragmáticos da moderna tecnologia norte-americana.
Desenvolvimento passou a ser meramente sinônimo de crescimento econômico, crescimento este a privilegiar apenas alguns setores da cultura nacional, em detrimento de outros. Por um lado, tal procedimento implicou a veiculação de cada vez mais sentidos e valores alienígenas, visando a criação de uma forma de pensar e de viver baseada nos valores de consumo dos bens produzidos pelas modernas indústrias que aqui se implantaram.
Por outro lado, e em decorrência deste fato, implicou a repressão mais severa a todos os valores e sentidos que surgiam para se contrapor a tal modelo de crescimento. O processo de invasão cultural se acentuou consideravelmente, gerando uma patologia na medida em que, estando proibida a expressão de uma série de valores próprios, a cultura devia adotar posturas que lhe eram estranha, não-decorrentes de suas condições concretas. Nas palavras de António Joaquim Severino:
“A atualmente tão bem explicitada condição brasileira de dependência mostra de maneira manifesta o significado básico de nossa despersonalização como nação e como projeto histórico-cultural. É que o nosso modo de ser social não decorre de um projeto intencionalmente elaborado pela nossa comunidade, mas sim de aplicações mecânicas a nossas atividades práticas, de esquemas elaborados por outras comunidades, em contextos totalmente diferentes. Este alheamento é decorrência, pois, da imposição heteronômica de países centrais a países periféricos, da metrópole à colónia, de modelos de existência, de cultura e de civilização.
E a configuração específica de nossa cultura nacional se dispersa sem poder se delinear em contornos bem definidos. Quaisquer que sejam as dimensões consideradas desta personalidade cultural, notar-se-á o quanto estão distantes de um projeto autenticamente nacional.”
Uma instituição básica para a manutenção deste estado de coisas, e que logo se tratou de implantar, foi a censura ofical às idéias e expressões divergentes dos sentidos veiculados pela classe dirigente. Através dela restringiu-se à circulação de idéias — fundamental à coesão cultural — e procurou-se impedir que novos sentidos viessem à tona, confrontando e questionando aqueles propostos oficialmente. Nas palavras de Octavio lanni:
“O Estado detém o monopólio da única interpretação que ele próprio considera válida para o conjunto da sociedade. Essa interpretação, pensam os governantes, prescinde de outras.” A censura abateu-se, com um rigor que chegou mesmo às raias do delírio, especialmente sobre a produção artística nacional. Impediu-se que artistas dos mais variados campos pudessem concretizar os sentimentos brotados face a uma vida que não cabia nos parâmetros governamentais, e que contradizia os sentidos propostos verticalmente.
Impediu-se que a arte — elemento fundamental para o desenvolvimento do “sentimento da época” — pudesse exprimir nossa situação cultural e auxiliasse na compreensão do momento histórico vivido. Apenas foram permitidas as expressões de sentimentos que não faziam referência a unia situação sócio-cultural explícita e, mesmo assim, muitas foram i vetadas por não se coadunarem a determinadas regras de “moralidade e bons costumes” também decididas unilateralmente. Portanto, “o sistema de poder que passou a dominar o país em 1964 se propôs a eliminar ou controlar o espírito crítico, inerente a toda atividade intelectual, jornalística, artística, filosófica ou científica”.
Enquanto cerceava a produção divergente, o sistema dominante procurou veicular sentidos totalmente estranhos a nossa realidade, moldando o sentir e o pensar brasileiros segundo padrões que satisfaziam os interesses consumistas. Para tanto, a televisão constituiu-se num poderoso veículo de difusão e homogeinização cultural. Através dela pôde-se alcançar os mais recônditos cantos do país e as mais diversas subculturas regionais, impondo a todas uma única forma de pensar e sentir.
Manifestações artísticas regionais e folclóricas foram gradativamente sendo esvaziadas, já que o “moderno” e “civilizado” eram as mensagens estéticas televisionadas. Mensagens estas que, na maioria dos casos, provêm de outras culturas e atendem interesses de formação de um mercado consumidor. Como diz Osman Lins, “o brasileiro, hoje, nasce e cresce recebendo pela televisão mensagens de segunda ordem, vindas principalmente dos Estados Unidos, todas — o que é pior — infiltradas de uma publicidade disfarçada (ou ostensiva) sobre aquele país.”
Grande parte dos filmes apresentados hoje pela televisão foram proibidos em seus países de origem, por violarem suas constituições; como por exemplo, aqueles onde o policial forja provas contra o acusado ou invade residências sem o mandado judicial. Ao serem apresentados aqui, tais filmes cumprem um papel “educativo” poderoso; induzem o indivíduo a acreditar que os procedimentos por eles veiculados sejam “normais” e perfeitamente admissíveis, não ferindo quaisquer direitos do cidadão.
Em termos deste adestramento que as artes alienígenas têm aqui operado é que se pode entender a afirmação de Susanne Langer: “Se as fileiras de jovens crescem em confusão e covardia emocional, os sociólogos procuram em condições econômicas ou relações familiares a causa dessa deplorável fraqueza humana, mas não na influência ubíqua da arte corrupta, que mergulha a mente em um sentimentalismo raso que arruína quaisquer germes de sentimento verdadeiro que poderiam se desenvolver nele.”
Dentro deste quadro de invasão e despersonalização cultural é que podemos agora vir a entender o sistema de ensino implantado entre nós e ao qual estamos hoje submetidos. Em primeiro lugar deve-se ressaltar que sua implantação visou basicamente suprir as necessidades criadas pela instalação, entre nós, de modernas e poderosas indústrias multinacionais. Havia que se produzir mão-de-obra especializada para tais indústrias, ao mesmo tempo eliminando quaisquer vestígios de criticidade e criatividade no interior da educação.
O modelo encontrado (também importado) foi a profissionalização desde os níveis mais baixos do ensino e a especialização pragmática, que apresenta fórmulas e sentidos já prontos ao educando, desconectados de sua realidade social e cultural. Numa longa citação, comenta Moacir Gadotti: “Esse modelo de ‘educação’ cujas consequências estamos suportando hoje foi o modelo trazido pelos especialistas norte-americanos, desde 1966, quando foi firmado o acordo entre o MEC e a USAID (United States Agency for International Development).” (…)
“Por trás dessa concepção da educação escondia-se a ideologia desenvolvimentista, visando o aperfeiçoamento do sistema industrial e econômico capitalista. A periferia deveria adaptar-se aos comandos dos centros hegemônicos do capitalismo. As raízes desse modelo de educação — que é o nosso — são puramente econômicas. Dentro dessa concepção de educação os países periféricos, e portanto dependentes, estão atrasados porque são carentes de tecnologia e não porque são dependentes. Ora, essa carência pode ser suprida através de uma reforma do sistema escolar, voltada para o treinamento, o adestramento do estudante, tornando-o um dócil servidor do sistema económico.
A ‘justificação de motivos’, porém, era outra. Aparentemente, as reformas eram guiadas por uma filosofia (que fazia o papel da ideologia, isto é, de ocultação das verdadeiras raízes sócio-econômicas) voltada para a vida. Essa filosofia insistia na escola ‘ativa’ (Dewey), na escola como serviço à sociedade, mas na realidade era um serviço prestado exclusivamente à industrialização, à ‘modernização’, aos interesses econômicos do capitalismo, formando, de um lado (no secundário), mão-de-obra especializada (Lei 5.692/71), e, de outro, grupos ‘dirigentes’ (a Reforma do Ensino Superior).”
Não podemos nos furtar aqui de citar outra penetrante análise nesse sentido. Pedimos, pois, licença ao leitor, para transcrever a longa afirmação de Severino : “A educação brasileira tem se caracterizado, quaisquer que sejam os níveis em que é considerada, por servir de instrumento de consolidação da sociedade industrial e consumista que se tem instalado no Brasil. Só assim pode-se entender a tendência incontrolável da legislação educacional no sentido de instaurar o ensino essencialmente profissionalizante em todos os graus.
Partindo-se de uma acusação totalmente destituída de fundamentos — de que a educação humanista que sempre predominou no Brasil foi a grande responsável pelo nosso subdesenvolvimento — pretende-se realizar este desenvolvimento, contando-se para isso com uma nova educação, toda ela voltada para a profissionalização técnico-industrial. Esta acusação é duplamente injustificável: primeiro porque, historicamente, nunca houve no Brasil um projeto educacional realmente humanista e, segundo, porque o próprio sentido de desenvolvimento foi”.
Tomado de outras experiências históricas, sem que se tenha tido entre nós a preocupação de ver o que significaria para o Brasil este desenvolvimento. Concebendo-o exclusivamente como crescimento económico, como progresso tecnológico e como modernização industrial, só resta colocar a educação a serviço desses objetivos.
Em conseqüência disto, o pouco que ainda cabia à educação de formar uma inteligência crítica, capaz de participar da elaboração de um pensamento nacional, informador de nosso projeto histórico-cultural, é agora julgado supérfluo e sumariamente dispensado. Pois disto o industrialismo tecnocrático que leva ao desenvolvimento, não precisa.”
Assim, nosso modelo educacional voltou-se exclusivamente à transmissão de sentidos já prontos e acabados. Voltou-se à inculcação de determinados valores desenvolvimentistas e modernizantes, sem considerar as origens sócio-econômicas e o universo existencial dos educandos. Trata-se de transmitir fórmulas e conceitos específicos, sem despertar o educando para o sentido de sua vida num ambiente histórico-cultural.
Trata-se de nivelar as diferenças individuais e sociais, através de sentidos considerados objetivos e universais. O que acaba de fazer com que indivíduos provenientes de diferentes classes sociais vejam sua realidade a partir da ótica dominante, relegando seus valores e aspirando àqueles que lhes são distantes e inacessíveis. Ou ainda acaba por fazer com que as culturas regionais sejam desprezadas em função do “moderno”, que os centros econômicos veiculam.
Semelhante processo termina então por inibir e cercear a criação por parte dos educandos, já que sua situação concreta não interessa ao sistema, e os significados válidos são apenas aqueles propostos verticalmente pelo professor.
“Muito espontâneamente essa relação assimétrica se transforma em relação de dominação. . . Ora, uma relação de dominação irá contra toda criatividade e entre os alunos; a criatividade caminha par a par com a liberdade e não com a ditadura.”
Porém, a mesma lei que profissionalizou a educação brasileira, transformando-a numa imposição de valores pragmáticos (5.692/71), também tornou obrigatória a educação artística no 1.° e 2.° graus. Haverá aí alguma contradição, ou qual é o real papel desta obrigatoriedade? Queremos crer que ela desempenha, neste contexto, aquela função da ideologia, levantada por Gadotti.
Ou seja, permite que se possa falar no caráter “humanizante” e “formativo” do nossos sistema educacional que, tão voltado ao “homem integral”, até incluiu a arte em sua formação. Todavia, esta situação é extremamente enganosa, na medida em que o abismo cavado entre a letra da lei e sua aplicação concreta não permite que tais pressuposições sigam adiante. Porque, se a lei tornou obrigatório o trabalho artístico, as condições reais (econômicas e materiais) para sua implantação efetiva não existem.
Funcionando muitas vezes em precárias instalações, a escola brasileira não dispõe, em primeiro lugar, de condições para abrigar um espaço apropriado ao trabalho com a arte. Organizada ainda de maneira formal e burocrática, sua estrutura relegou a educação artística a uma disciplina a mais dentro dos currículos tecnicistas, com uma pequena carga horária semanal.
A arte continua ainda a ser encarada, no interior da escola, como um mero lazer, uma distração entre as atividades “sérias” das demais disciplinas. Freqüentemente delega-se também ao professor de arte a incumbência de “decorar” a escola e os “carros alegóricos” para as festividades cívicas, subordinando-o ao “Orientador de Moral e Cívica”. Neste sentido, é totalmente inócua a disciplina, já que toda a estrutura física, burocrática e ideológica da escola está organizada na direção da imposição de valores e do cerceamento da criatividade.
A educação artística, implantada pela lei, compreende as seguintes áreas: música, teatro e artes plásticas, que devem ser desenvolvidas no decorrer do 1.° e 2.° graus. Porém, a formação do professor polivalente em artes tem se revelado extremamente deficitária. É algo difícil exigir-se que um mesmo indivíduo possa, efetivamente, trabalhar com seus alunos em todas essas áreas distintas.
Para tanto, haveria que se constituir uma equipe de trabalho com diferentes elementos, especializados numa só forma de expressão — o que, nas atuais condições, é impraticável economicamente. E isto acaba por fazer com que os professores desenvolvam atividades que não conhecem bem, apenas para cumprir o programa e as formalidades acadêmicas.
Além de que, dada a recente implantação dos cursos de formação para arte-educadores, o professor da disciplina muitas vezes é um leigo, que não compreende exatamente o significado da arte na educação e desconhece a metodologia adequada. Sem contar-se ainda que, nas quatro primeiras séries do primeiro grau, e na maioria dos casos, é apenas um, o professor responsável por todas as áreas de ensino, incluindo a arte.
Isso acaba por gerar situações realmente perniciosas no interior da educação artística. Como, por exemplo, a entrega de desenhos e contornos já prontos para o aluno colorir ou recortar. Ou ainda a confecção de “presentes” e objetos para a comemoração de datas e eventos cujo significado sequer chega a ser discutido com os educandos.
Com relação a este mesmo estado de coisas, em termos da cultura norte-americana, mas perfeitamente aplicável à nossa situação, comentam Lowenfeld e Brittain : “De maneira bastante surpreendente ainda encontramos, de modo casual, folhas mimeografadas que se entregam aos jovens para colorir a silhueta de George Washington, o contorno do peru do Dia de Ação de Graças, do coelho de Páscoa ou mesmo de uma árvore de Natal.
(. .) Às vezes os programas artísticos também estão desvirtuados por verdadeiros absurdos, como no caso comum de entregar às crianças folhas de papel alumínio para que façam uma figura, comprimindo o papel sobre algum modelo previamente formado, para decorações de Natal. Até as cestinhas da Festa da Primavera, já planificadas pela professora, e que as crianças da primeira série têm que recortar, entram na categoria dos elementos perniciosos à expressão criadora”.
“Expor uma aprendizagem artística que inclua tais tipos de atividades é pior do que não dar aprendizagem alguma. São atividades pré-solucionadas que obrigam as crianças a um comportamento imitativo e inibem sua própria expressão criadora; esses trabalhos não estimulam o desenvolvimento emocional, visto que qualquer variação produzida pela criança só pode ser um equívoco; não incentivam as aptidões, porquanto estas se desenvolvem a partir da expressão pessoal.
Pelo contrário, apenas servem para condicionar a criança, levando-a a aceitar, como arte, os conceitos adultos, uma arte que é incapaz de produzir sozinha e que, portanto, frustra seus próprios impulsos criadores.” Assim, nestas atividades aparentemente inocentes esconde-se uma visão “bancária” da educação, que impõe modelos (estéticos) e valores às crianças.
Ao propor a confecção de presentes para o dia dos pais ou das mães, por exemplo, transmite-se, sem questionamentos, uma ideologia de consumo que instituiu semelhantes datas com fins estritamente lucrativos. E o que é pior: impõem-se tais valores mesmo às crianças oriundas de classes sociais extremamente carentes, levando-as a assimilar modelos que ocultam suas reais condições. Nosella demonstrou, em sua obra, o quanto os livros-textos adotados nas primeiras séries do nosso 1.° grau transmitem uma visão tendenciosa e fictícia de nossa realidade, e o quanto as próprias ilustrações contribuem para essa transmissão. Aqui temos a arte empregada diretamente como veículo de inculcação de determinado valores e sentidos. São dela as palavras:
“É necessário observar que a mensagem visual torna-se um eficiente instrumento ideológico complementar dos textos, devido à sua força comunicativa — rapidez e impacto emotivo — muitas vezes maior do que a comunicação escrita.”
Não podemos deixar de levantar aqui, com relação à imposição de valores através da arte e da atividade artística, a questão do kitsch. Este é um termo que passou a designar, de maneira geral, a arte produzidos com o intuito de copiar determinados valores estéticos, transformando-os em imitações grotescas, acessíveis a segmentos sócio-econômicos inferiores da sociedade. Através da banalização desses valores tais segmentos podem ter a ilusão de participação nos valores veiculados como próprios das elites.
Todavia, mesmo as elites têm consumido o kitsch, na medida em que ele se transformou num produto “artístico” e barato da sociedade de consumo. Assim, “a atitude Kitsch é sempre uma atitude da sociedade de consumo, que se manifesta em relação aos objetos envolvendo tanto as camadas sociais abastadas como as demais categorias sociais cujas atitudes imitam ou refletem (mormente, no âmbito estético) as da classe dominante.”
Desta forma, ao se veicularem certos padrões ou modelos estéticos a estudantes pertencentes a determinadas classes sociais que, concretamente, não têm acesso a tais valores, não se está incentivando o kitsch? Não se está produzindo um distanciamento de suas condições de vida, ou uma recusa a expressar (através da arte) os seus valores e vivências próprias? O que acaba por toldar uma visão mais clara dos sentidos de sua vida, inserida num contexto sócio-cultural específico. Portanto: “
. . .é preciso não esquecer que o Kitsch exerce seu papel pedagógico de modo crucial sobre as sociedades subdesenvolvidas, submedidas à irrigação dos meios de comunicação de massa que, na verdade, constituem meios de exploração das sociedades afluentes — Estados Unidos, nova Europa ou Japão — desempenhando o papel de amplificadores de mercado”.
É necessário que a arte seja empregada no sentido de permitir ao educando uma elaboração de suas vivências, e não como a produção de objetos “belos”. Porque as normas de beleza, aí, podem facilmente significar a imposição de valores, conduzindo à produção e ao consumo do kitsch como arte, além de impedir que o indivíduo possa interpretar a sua situação no mundo. Pois, segundo Rubem Alves, “é preciso notar que uma situação de classe — participação numa mesma condição econômica — não é base suficiente para a comunidade.
Porque a situação material, em si, não é significativa. Pode ser vivida e sentida de múltiplas formas diferentes. Ela só adquire significação através de uma linguagem que a interpreta como valor, seja positivo, seja negativo. E será esta linguagem que se constituirá na base da unidade da vivência de uma situação comum, e na base para a ação frente a mesma”. A arte é um elemento fundamental para que, expressando suas vivências, o educando possa chegar a compreendê-las e a emprestar significados à sua condição no contexto cultural.
Estas são apenas algumas considerações a propósito das reais condições de aplicabilidade da Lei 5.692/71. Porque, se através dela instituiu-se a obrigatoriedade da educação artística, através dela gerou-se também uma situação caótica para o ensino brasileiro; uma mundo e que acaba por sufocar qualquer criticidade e criatividade na situação onde impera a transmissão de uma visão pragmática do interior da educação. Uma situação que destrói, em suas bases, as mais elementares condições para que o trabalho artístico seja efetivamente desenvolvido. E, nessas condições, terminam os professores de arte por desempenhar um papel decorativo (nas várias acepções do termo) no interior da escola. Terminam por se sentirem, eles mesmos, confusos quanto a seu real valor e necessidade para a formação do indivíduo.
Não podemos nos propor aqui a analisar demoradamente o lugar que a arte, os artistas e os professores de arte têm ocupado em níveis superiores, isto é, nas universidades brasileiras. Porém podemos assinalar, de passagem, que sua situação ali não é muito diversa da que ocupam no 1.° e 2.° graus. Porque também as universidades foram transformadas em simples transmissoras de “conhecimento objetivo”, procurando-se seu desvinculamento da realidade na qual estão inseridas.
Organizadas sobre bases pragmáticas, bem pouco espaço tem nelas restado para o artista. Isso desde o simples espaço físico até o espaço para a criação e desenvolvimento de seu trabalho. Se mesmo nas áreas tecnológicas o incentivo à pesquisa foi reduzido a um mínimo insignificante, na área artística ele praticamente inexiste. Além de que os critérios pragmáticos e burocráticos utilizados para o enquadramento dos docentes e pesquisadores de outras áreas têm sido indiscriminadamente aplicados ao professor de arte, com o seu prejuízo, dadas as características próprias de seu trabalho.
No projeto pioneiro da Universidade de Brasília tal situação havia sido resolvida atribuindo-se à área artística locais e critérios próprios. Nas palavras de Darcy Ribeiro: “O Instituto Central de Artes (…) apresenta peculiaridades que o diferenciam dos demais e obrigam a indagar se deve ser integrado no conjunto dos Institutos Centrais ou separado com um setor especial em que o exercício da docência e da criatividade artística possam reger-se por critérios próprios (…)
Esta linha divergirá, necessariamente, da licenciatura, do mestrado, e do doutorado, previstos nos demais Institutos Centrais, dada a natureza especial da criatividade artística e a dificuldade de apreciação acadêmica que lhe é inerente. O mesmo problema existe na formação e seleção do magistério universitário de Artes Visuais, que terá de ser regulamentado mais livremente para não ser limitada pela burocratização uma atividade insuscetível de enquadramento em normas rígidas.”
Assim, o mesmo espírito que regeu. a i elaboração da Lei 5.692/71, regeu também a Reforma Universitária, relegando a atividade artística à situação de apêndice e luxo social. Relegando-a, praticamente, à condição de atividade menor no conjunto cultural, apesar dos objetivos professados serem o oposto.
A respeito dessa situação, comenta Roberto Gomes: “O artista, este marginal, é objeto de tabu, suportando a mesma agressiva ambivalência por parte do homem sério: amor e ódio. Aliás, duas são as coisas que o homem sério faz ao chegar ao poder: instaura a censura e constrói suntuosos museus e teatros. E distribui prêmios literários. Isto só parecerá contraditório se deixarmos de considerar que existem duas maneiras de aniquilar com o artista: censurando-o ou promovendo-o a uma espécie de ornamento social. E é assim que o homem sério exorciza aquilo que teme.”
Estamos construindo a cultura brasileira contemporânea sobre valores estritamente pragmáticos e consumistas. Talvez não estejamos nem mesmo construindo-a, no sentido forte do termo, mas dissolvendo-a ao importar e malversar fórmulas, valores e significados alheios. É necessário à vitalidade de qualquer cultura que seus sentidos sejam expressos e constituídos a partir de suas reais condições. É necessário que a expressão e a comunicação sejam integralmente garantidas a seus membros, sob pena de a vida perder seu sentido e coerência.
A arte, neste processo, adquire função essencial, por exprimir a construir aquilo que está fora dos limites da razão discursiva. A arte está com o homem desde que este existe no mundo — ela foi tudo o que restou das culturas pré-históricas. Apenas a constatação deste fato elementar — a universalidade e permanência do impulso estético — já é razão suficiente para que se reconheça a importância da arte na constituição do humano.
A educação e a formação do homem não podem prescindir de quaisquer instrumentos ou meios que o levem a criar um sentido mais harmônico para sua existência. A arte precisa ser recuperada para a educação oficial brasileira, ela própria desarmônica e impositiva. Porque (parafraseando Noel Rosa), apesar de todas as reformas e objetivos professados, o samba — como outras formas de expressão — continua a não ser aprendido no colégio.
CONCLUSÃO
A todo instante o mundo inter-relaciona-se com a pessoa. O mundo e o indivíduo estão integrados, não podendo ser compreendido separadamente um do outro. Por isso, não se pode estudar a criatividade apenas sob o ângulo da pessoa como fim em si mesma, no seu próprio íntimo. A criatividade é um processo resultante da inter-relação da pessoa com o mundo.
Criar é propor algo novo. Para isso, é fundamental a participação da expressão lúdica. Do lúdico vem a condição essencial de se reorganizar e combinar o que se conhece, a fim de se formar o novo. Da expressão provém a apreensão intensa daquilo que se conhece, fornecendo à nova combinação do conhecido uma íntima relação com a vida. A união da expressão lúdica sempre acontece banhada pela liberdade e sinceridade, por isso resulta de um pensar autêntico e espontâneo. Criar é se manifestar pela expressão lúdica.
A obra estética surge como resíduo significativo da vivência de quem a criou. E o produto materializado da expressão lúdica em sincronia com a habilidade dispendida para fazê-lo. Em outras palavras, a obra é estética quando a mensagem de seu autor se integra com o uso adequado dos materiais no espaço proposto. O objeto estético necessita da realidade exterior-interior do artista para existir, que através da sua capacidade de expressão lúdica a filtra e a exprime numa simbologia particular.
Quando o espectador, diante da obra, a recria, conforme a sua expressão lúdica, acontece a apreciação puramente estética. A obra considerada estética é, portanto, aquela que mantém uma relação com a expressão lúdica, tanto de quem a criou, como de quem a observa.
No entanto, o espectador, quase sempre, é vulnerável às influências dos valores do sistema vigente.
O gosto do indivíduo se atrofia, sendo modelado pelas mensagens provindas, sobretudo, dos meios de comunicação, que geralmente o conduzem a uma apreciação fria e inócua. Segue a rota ditada pela classe dominante, acreditando mais no que é noticiado do que nas próprias qualidades do autor e de suas obras. Este passa a ser valorizado mais pela divulgação que seu nome atinge, do que pela sua capacidade.
A obra torna-se artística quando aprovada como tal pela sociedade. Como se trata de algo que nem todos os espectadores sabem como apreciar, aceita-se passivamente o que os marchands, colecionadores, críticos, editores, dirigentes de órgãos culturais, galeristas e os próprios artistas consideram como arte. A falta de capacidade da maioria do grande público para saber olhar através da expressão lúdica, faz com que não aconteça a empáfia perante a obra puramente estética, não possibilitando o encontro genuíno da apreciação. Os espectadores tornam-se frágeis, neutros, deixando que impere a vontade, o gosto e a opinião da elite criadora do sistema de arte.
Podemos dizer, então, que a arte se constitui por duas tendências principais: a genuína e a superficial. Na primeira, está o criador que impulsiona a sua expressão lúdica, aliando-a à sua habilidade ao lidar com os materiais, para construir uma obra estética. Esta é vista pelo espectador que a recria através de sua expressão lúdica, experienciando assim a apreciação estética. Na segunda, está aquele que é incapaz de ativar a expressão lúdica; faz uma obra que não tem sintonia consigo; mas, em virtude de subterfúgios, consegue expô-la em museus, publicar catálogos e livros luxuosos sobre os seus trabalhos, contendo apresentações de críticos consagrados.
Constantemente é destaque em colunas sociais e assunto de revistas. O apreciador desse gênero não consegue aguçar a sua expressão lúdica ao fitar uma obra. Não a recria. Aceita a indução de valores que envolve o autor e, conseqüentemente, considera-o um artista. Nessa esfera situa-se o que vulgarmente se diz “arte comercial”, ou seja, aquele produto que agrada artificialmente.
A arte é um fenômeno social que nasce do homem, portanto reflete suas virtudes e defeitos, certezas e incertezas, enquanto ser que está caminhando ao encontro de melhor se situar no mundo. Há autênticas criações, mas há também aquelas que se originaram de valores supérfluos.
Artista é aquele que, por mérito, conciliou a sua expressão lúdica com o manuseio dos meios materiais ao produzir suas obras ou é também aquele que conseguiu fazer quadros que se tornaram “artísticos” mais pela persuasão do que propriamente pela capacidade de realizá-los? Enfim, essas duas situações coexistem e não se pode negar uma em detrimento da outra porque ambas as alternativas são consideradas pelo mecanismo social. Esses dois pontos distintos formam o caminho que o artista percorre. Alguns estão mais próximos de uma situação e outros da outra.
A criança, devido à sua natureza, possui a característica genuína. No entanto, sendo a arte formada também pela apreciação do espectador, a criança não é considerada artista porque ela é vista pelos adultos como um ser que está a aprender e não a ensinar. Se para o próprio adulto ser considerado artista pelo meio social é um tanto árduo e difícil, para a criança isso é quase impossível.
Concluindo: o desenho infantil, mesmo tendo características visuais semelhantes ao de muitos artistas consagrados, não é entendido como arte. Ao se analisarem os fatores que envolvem a criação de uma obra, tanto a criança como o adulto têm condições de criar e produzir obras com qualidades estéticas.
A diferença entre a criança e o artista contemporâneo não reside em suas produções plásticas, certamente guardadas as particularidades, mas, na apreciação do espectador, cujos critérios variam dependendo se quem fez determinada obra foi a criança ou o adulto.
Por isso, acreditamos que a apreciação da sociedade acontece sobre a obra e seu autor, não separando um do outro. Assim, obras feitas pelo adulto que são consideradas artísticas, não o seriam se fossem criadas pela criança.
Após essa conclusão, como entender a Educação Artística? A arte resulta da ação dialética do homem e seu meio. Tentar ensiná-la é saber prever o futuro do pensamento da sociedade; isso inviabiliza obter a certeza de que sua educação está ou não num rumo adequado.
Contudo, pode-se estimular a educação estética do educando, respeitando os princípios da expressão lúdica, tanto para quem cria como para aquele que aprecia. Assim, a arte, com o passar dos anos, poderá ser estimulada nos seus aspectos ético e genuíno. Conseqüentemente, essa atitude fará crescer o ser humano, conduzindo-o a um discernimento mais nítido sobre a sua conduta como ser social.
Enfim, não pretendemos fechar esta questão, pois consideramos ser relevante que este pensamento aqui exposto sobre a criança e o artista contemporâneo possa ser ampliado e aprofundado a fim de se encontrarem soluções que possibilitem indicar um caminho mais acertado para a Educação Artística nas escolas.
Entendemos que o presente livro abre a perspectiva para novas reflexões e desdobramentos, apontando, entre outras, a necessidade de trabalhos relativos à formação do professor de Educação Artística, que antes de ser ensinado a ensinar, carece de uma formação adequada no sen. ido de produzir e apreciar uma obra estética. Estudos nessa direção poderão provocar mudanças para melhor entender e orientar a expressão plástica da criança.
Apenas enfatizamos que a arte deva ser compreendida a partir dos elementos que a concretizam: o criador, a obra e o espectador. Qualquer ensino que se detenha num determinado fator apenas estará falseando a realidade, pois a visão que dela se terá, será, então, infalivelmente superficial.
Em verdade, se a obra estética não é feita para um público determinado, “ela vai ao seu encontro e supõe sua existência (…) Sobrevivente à destruição do mundo, o último casal haveria, talvez, de amar-se: o último artista não mais criaria” (Picou, 1970, p. 24).
Autor: Rogeria Gadioli PinheirO


